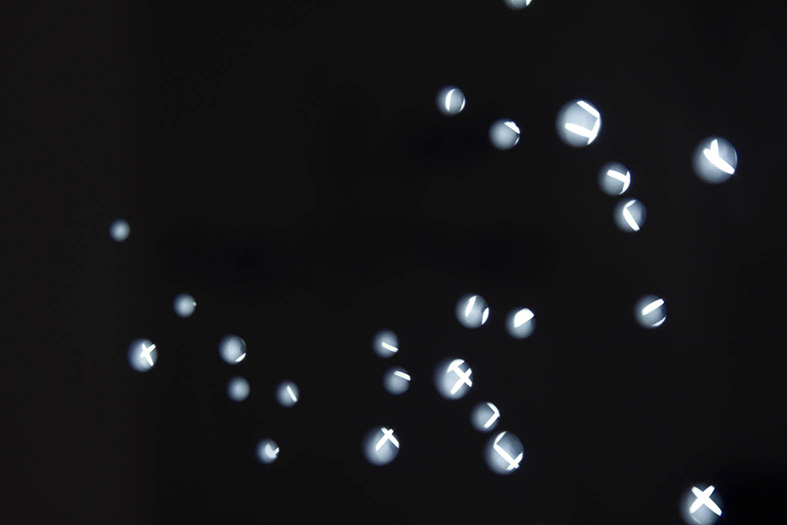
1. Na passagem dos anos 1960 para os 70, o artista norte-americano Robert Smithson realizou importantes trabalhos em que criava uma relação dialética entre “lugar” (site) e “não-lugar” (non-site), relativizando a importância do trabalho enquanto objeto, em favor da ideia mais abstrata de trajeto, absolutamente nova naquele momento. Com isso, adentrou o instrumental técnico e ideativo mais comum a profissionais como arquitetos, topógrafos ou geólogos, entre outros, realizando croquis, mapas de localização, fotografias e filmagens de suas viagens de exploração, de modo a registrar o seu deslocamento como um contraponto à noção mais fixa e essencialista de lugar, sem, no entanto, recair numa representação mimética. Construindo os seus Earthworks em meio à paisagem como ação física (site), ele transportava elementos recolhidos ali, como pedras e porções de terra, junto com mapas e desenhos, para o interior de museus ou galerias (non-sites), numa atitude de caráter cultural, complementar à primeira – e deixando a ausência desses elementos no lugar de origem como rastro negativo da ação, esta também documentada e presente no non-site. Com isso, definia seu trabalho como um perpétuo ir e vir dialético entre essas instâncias tanto materiais (site e non-site) quanto simbólicas (as instâncias física e cultural). Daí que possamos, de fato, caracterizar esses trabalhos como trajetos de mediação entre lugares e representações, em direção a uma terceira coisa. Nesse trânsito, o site (natureza) se torna coextensivo à galeria, já que o trabalho não possui um centro hierárquico.
Na sua famosa expedição de reconhecimento da sua terra natal (Passaic, Nova Jersey), em 30 de setembro de 1967, Smithson encontra um cenário industrial abandonado, ao qual atribui, no entanto, uma grande carga simbólica. Dessa maneira, tratores, pontes, bombas d’água e tubulações, por exemplo, são considerados por ele “monumentos” da paisagem, como se fossem fósseis de animais pré-históricos cuja existência independesse da ação humana. Segundo o seu relato, o primeiro monumento encontrado na viagem foi uma ponte sobre o rio, que conectava o condado de Passaic ao de Bergen. Assim, diz ele: “O sol do meio dia dava um caráter cinematográfico ao lugar, convertendo a ponte e o rio em uma imagem super exposta. Fotografá-los com a minha Instamatic 400 foi como fotografar uma fotografia. O sol se converteu em uma monstruosa lâmpada que projetava um série de ‘fotogramas’ nos meus olhos através de minha Instamatic. Quando atravessei a ponte, era como se caminhasse sobre uma fotografia enorme, feita de madeira e aço, e debaixo, o rio existia como um enorme filme que não mostrava mais que uma imagem contínua em branco.”[1]
A volta a Passaic, naquele caso, é uma viagem tanto no espaço quanto no tempo, com um poder evocativo que parece desrealizar o lugar enquanto materialidade, criando um inusitado sistema de equivalência simbólica no qual mapa e lugar se confundem, na extraordinária imagem de alguém que caminha sobre uma enorme fotografia, que é um mapa. Uma posição simetricamente oposta a essa aparece, ao meu ver, em alguns trabalhos e textos de Hélio Oiticica, como, por exemplo, no Penetrável Tropicália (1967), que descreve da seguinte maneira: “Antes de fazer estas novas cabines, eu tive a ideia de me ‘apropriar’ de lugares que eu gostava, lugares reais, onde eu me senti vivo. De fato, o Penetrável Tropicália, com sua multidão de imagens tropicais, é uma espécie de condensação de lugares reais. Tropicália é um tipo de mapa. É um mapa do Rio, e é um mapa da minha imaginação. É um mapa no qual você entra.”[2] Hélio, como se vê, também opera com o trânsito entre site e non-site, digamos assim, mas sempre no sentido de promover a experiência física do trabalho, trazendo o resultado do seu “delírio ambulatório” pela cidade e pela imaginação, com seu mapeamento subjetivo, para instalações espaciais, nas quais aquela cidade-mapa pode ser experimentada de uma outra forma: “um mapa no qual você entra”.
Um outro exemplo interessante dessa mesma situação aparece no seu trabalho “Manhattan brutalista”, de 1978. Naquele ano, em que Hélio voltou de Nova York para o Rio de Janeiro, as obras de construção do metrô sob a Avenida Presidente Vargas geraram uma enorme quantidade de entulho na região. Ali, Oiticica encontrou um pedaço de asfalto com a forma da ilha de Manhattan, um objeto “semi-trouvé” do qual se apropriou, e depois usou como parte da instalação “Kyoto-Gaudí”, feita no banheiro da sua casa – evitando mais uma vez a abstração cartográfica em favor da materialidade. Nesse caso, a arbitrariedade da associação formal entre o pedaço de asfalto carioca e o contorno de Manhattan ampara uma reflexão sobre a arqueologia urbana, investindo esse dejeto arrancado do subsolo – a cota da antiga avenida onde passavam os desfiles das primeiras escolas de samba do Rio – de um significado metafórico sobre a arte errática do deambular, por oposição à “internação do museu”, ou à “fixidez do mapa”. Isto é, tomando-o como um elogio da experiência urbana soterrada, por oposição ao olhar abarcador e dominador da vista aérea, do controle panóptico da visão e da representação em “vôo de pássaro”. Como bem pergunta Paula Braga, a propósito desse trabalho, “Manhattan brutalista é afinal um mapa da ilha de Manhattan ou do Rio de Janeiro? Ou é possível sobrepor todos os mapas formando uma geografia própria?”[3]
No Brasil, ao meu ver, uma discussão por essa via vem sendo atualizada desde os anos 1990 por artistas como Nelson Félix, que criou trabalhos fortemente alheios ao conceito de site-specific, baseados em novas maneiras de representar o lugar, dilatando o tempo de ocorrência da obra. Me refiro sobretudo a um trabalho como “Cruz na América”, feito por um sistema de ações artísticas no continente (Uruguaiana, deserto do Atacama, floresta no Acre e cidade do Rio de Janeiro) criado a partir de uma lógica arbitrária, dada por coordenadas geográficas em forma de cruz. O que faz com que a totalidade conceitual do trabalho exista apenas como fato mental não passível de experiência. Nesse caso, a linguagem “pública” e objetiva do sistema de coordenadas gráficas é tomada pelo artista como uma lei arbitrária que vem, de fora, organizar formalmente o trabalho, e dar sentido a ele. Mais do que representados, os lugares são, nesse caso, significados pela representação. Em certo sentido, Nelson Félix parece de fato pisar um grande mapa, que é, também, uma espécie de imagem super exposta.
2.
Desde o seu título (“lugares/representações”), a presente exposição já demonstra uma filiação evidente a essa linhagem de trabalhos artísticos, ainda que não necessariamente aos artistas citados aqui. Andrei Thomaz, Daniel Escobar e Marina Camargo pertencem a uma geração para a qual o Google Earth e o GPS se tornaram instrumentos corriqueiros de intelecção do espaço, aproximando de maneira inédita, na história humana, os lugares reais e as suas representações gráficas. Pois através desses incríveis Alephs contemporâneos, todas as pessoas se tornaram, de certa forma, arquitetos, topógrafos ou geólogos, incorporando com intimidade operativa um conhecimento antes considerado específico e abstrato. Tendo atrás de si um quadro de progressiva “desrealização do mundo” enquanto experiência física inalienável – dado tanto pela sensibilidade cultural pós-moderna, primeiro, quanto pela disseminação das tecnologias de virtualização do espaço, em seguida –, os três artistas se lançam a um mapeamento da sua (nossa) relação com o ambiente envoltório, em geral urbano. Porém, não seriam jamais “poetas” da vida nas ruas, como o flanêur baudelairiano foi um dia, e Hélio Oiticica também – talvez como último representante daquela linhagem. Suas relações com as cidades são umbilicalmente mediadas por uma nuvem de códigos, sejam eles cartográficos, publicitários, turísticos, ou até artísticos, em um contexto onde as noções de original, referente, fonte primária ou legitimidade já desapareceram há tempos.
Seria a paisagem urbana um símbolo inconteste de ordem e de verdade, relativos à confiança extrema que depositamos no sentido da visão, e na sociedade enquanto forma de organização coletiva? Não haveriam, por trás dessa aparência, infinitos universos possíveis, recalcados ou latentes, passíveis de serem entrevistos por uma perturbação qualquer, mesmo que arbitrária, dessa ordem visível? Partindo de indagações como estas, Andrei, Daniel e Marina realizam distintas formas de mapeamento urbano – de seu tecido formal e de seu imaginário –, produzindo trabalhos que não reproduzem os lugares reais, mas “inventam” novos lugares. Abandonando a ideia de obra como “objeto”, os jovens artistas trabalham com teias de informação, criando non-sites especulares que já não possuem sites como origem, em termos de uma experiência concreta do lugar. Para eles o planeta é inteiramente manipulável, como em um jogo, e o embaralhamento de suas teias, tal como acontece em “Eclipses” (Andrei Thomaz e Marina Camargo), demonstra esse processo de emancipação do código em relação à coisa em si, sugerindo a possibilidade de se entrever uma espécie de ordem oculta na organização das coisas (cidades), que a experiência imediata da pessoa, através do olhar e do caminhar, nunca é capaz de apreender.
Tal concepção de arte e de espaço se espelha na própria prática dos artistas. Trabalhando sobre vários suportes e à partir de diversas mídias (fotografia, papel de outdoor ou lambe-lambe, livros, madeira recortada, chapas de acrílico, caixas de luz, sacolas plásticas, projeção em vídeo, imagens de computador), eles problematizam a noção de autoria, realizando trabalhos algumas vezes em dupla, e em certos casos voltados para a criação participativa aberta na internet. Nesse sentido, Andrei Thomaz é o elo da cadeia. Trabalhando preferencialmente no campo virtual, seja na web, seja com monitores e projeções, realizou parcerias com Daniel Escobar e Marina Camargo, atentando para a convergência de preocupações dos três artistas. Em seus trabalhos, individuais ou em parceria, Andrei aborda a questão da dialética entre padrão (abstrato e genérico) e lugar real. O que aparece tanto no mar que se transforma em código de barras (“Horizontal vibrations. Bridget Riley, 1961”), quanto nas paisagens banais de “Changing landscapes” (com Daniel Escobar), onde a sobreposição de fotos de lugares com outdoors gera um trama vibrante de linhas verticais que fratura e reconstrói a imagem daqueles lugares, como que numa montagem pós-cubista-construtivista. Se, por um lado, o brilho das ondas pode ser catalogado como item de uma série, produto de consumo, as paisagens comerciais de outdoors, por outro, podem sair provisoriamente do campo do consumo e adentrar a esfera estética, dada a reorganização aleatória de suas imagens através do padrão geométrico, que esconde a baixa qualidade das fotos originais e do próprio cenário.
Dentre os três artistas, Daniel Escobar é quem traz uma reflexão mais próxima à Pop Art, via a corrente chamada “neo-dadá”, também americana, de apropriação de objetos e símbolos ordinários e cotidianos, próprios ao mundo urbano. Daniel trabalha com as paisagens do desejo criadas pelo consumo e pelo entretenimento. Nesse sentido, a cidade ganha ares de sonho, de campo imaterial construído pela fantasia, seja pelas dobras de monumentos-ícone de guias turísticos, seja pela criação de caminhos labirínticos através de pequenos mapas impressos em sacolas plásticas de supermercado. Talvez pudéssemos associar os seus trabalhos, em vista disso, à uma certa poesia da rua própria à linhagem Baudelaire-Oiticica, de que falamos anteriormente. Ocorre que, ao contrário daqueles, os trabalhos de Daniel justamente não buscam a autenticidade da experiência irredutível. Eles se emaranham nas malhas tautológicas do código: uma coisa leva a outra coisa, que leva a outra coisa, e assim sucessivamente. Mas não são solipsistas. Como que a escavar infinitas camadas por debaixo da imagem publicitária, seus trabalhos parecem estar na iminência de desaprisionar fantasmas adormecidos nas cidades, isto é, fantasias latentes sob a face fria do anonimato.
Mais próxima da fotografia, Marina Camargo realiza trabalhos cuja limpeza de acabamento revela uma maior proximidade com a tradição minimalista, e com a produção de artistas brasileiros como Iran do Espírito Santo. Em muitos dos seus trabalhos, incluindo-se alguns que não estão presentes na exposição, como “Atlas do céu azul” e “Horizonte”, a artista confronta, ou sobrepõe, diferentes formas de organização espacial: mapa mundi, tecido urbano, cartografia celeste, trama tipográfica etc. O desenho é linguagem, e a alternância entre elementos naturais e culturais, nos trabalhos de Marina, cria um campo comum de coisas significantes, que trata, sempre, de dissolver a noção de limite: continentes que derretem, edifícios que se perdem na bruma, céus e mares intercambiáveis, e cidade que ilumina as estrelas, até chegar a literalmente suprimir a linha do horizonte – limite por excelência –, numa fresta de luz impossível, que revela a artificialidade da operação, e a comutabilidade das coisas. Com isso, a artista coloca em questão a moderna (e hoje anacrônica) oposição entre natureza e civilização como instâncias puras. Através da linguagem artística, seus trabalhos dão tangibilidade àquilo que teóricos como Bruno Latour chamam de um campo híbrido natureza-cultura [4], e que é o palco da experiência contemporânea pós-industrial, o nosso verdadeiro “lugar” hoje.
Em resumo, manipulando através de diferentes mídias e suportes um conjunto de elementos conhecidos da vivência urbana (mapas, outdoors, guias turísticos, postais, informações de GPS, códigos de barras), Andrei Thomaz, Daniel Escobar e Marina Camargo embaralham essa teia complexa e banal de informações, aludindo a uma espécie de ordem oculta das cidades, frágil e desejante. Sua poética se constrói na fenda aberta entre realidade e representação – uma falsa linha do horizonte, vibrando como um halo mágico entre céu e terra? –, o que quer dizer também, em última análise, na dialética entre paisagem e desenho, universalismo e particularidade, já que tudo é linguagem.
[1] Robert Smithson, “A tour of the monuments of Passaic, New Jersey”, in Jack Flam (ed.), Robert Smithson: the collected writings. Berkeley: University of Califórnia Press, 1996, p. 70.
[2] Hélio Oiticica, “Sobre a retrospectiva na Whitechapel Gallery – Entrevista a Guy Brett, 1960”, in César Oiticica Filho et alii (org.), Encontros | Hélio Oiticica. Rio de Janeiro: Azougue Editorial, 2009, p. 60.
[3] Paula Braga, A trama da terra que treme: multiplicidade em Hélio Oiticica, Tese de Doutorado. São Paulo: FFLCH-USP, 2007, p. 140.
[4] Ver Bruno Latour, Jamais fomos modernos: ensaio de antropologia simétrica. São Paulo: Editora 34, 2005.
_____________________________________
Texto de Guilherme Wisnik originalmente publicado no catálogo “Lugares/Representações“, em ocasião da exposição homônima (2011, FUNARTE, São Paulo – Brasil).